Desastres ambientais e as raposas que cuidam do galinheiro
No calor de uma nova tragédia, com centenas de corpos soterrados em Minas Gerais, abundam os debates sobre os culpados. Ganância das empresas, negligência dos governos, falhas nos sistemas de gestão ambiental? Todas estas são razões verdadeiras. Mas boa parte das análises que li até agora criticam basicamente a falta da correta aplicabilidade de um sistema que deveria funcionar perfeitamente: o cumprimento preciso por parte de empresas e governos das "normas" do licenciamento ambiental e sua fiscalização.
Mas não é este o problema. E não é porque as normas deixam de ser cumpridas, o que também é verdade, nem porque os processos de licenciamento ambiental são demasiadamente exigentes ou exigentes de menos. O problema é que todo o sistema – tanto de licenciamento, quanto de reparação quando da ocorrência de desastres, são 100% controlados pelas empresas em suas relações com os governos. Ou seja, os atingidos, seja por obras ou atividades como a mineração, seja pelos impactos e desastres que estas provocam, não tem nenhuma voz, nenhuma vez em todo o processo.
Para começar, são as empresas que contratam os estudos de impacto ambiental (EIA), e quase sempre pressionam os técnicos contratados para realizá-los, chegando até mesmo a alterar o conteúdo dos relatórios que estes produzem de acordo com seus interesses. Do outro lado, os próprios governos pressionam para que os relatórios sejam aprovados, uma vez que já decidiram, muito antes da elaboração dos estudos, que vão realizar as obras ou licenciar as atividades de qualquer jeito. Em nome dos empregos, dos indicadores positivos no PIB, do nome nas placas de inauguração.
O espaço de intervenção da população atingida é patético: audiências públicas em linguagem cifrada, sem nenhum poder de deliberação, representatividade nula ou pífia nos conselhos, profissionalização e partidarização dos representantes capturados pela mesma malha de interesses empresa-governos. Ou seja, os processos de licenciamento ambiental hoje não servem para decidir se obras ou empreendimentos serão feitos a partir das considerações sobre seus impactos socioambientais, nem sequer para definir diretrizes básicas para os projetos.
Como não existe independência e nem discussão real sobre o destino dos territórios na elaboração dos estudos de impacto, estes terminam servindo tão somente para apontar quais problemas podem ser mitigados e que compensações devem ser feitas, muitas delas às vezes sem nenhuma relação com os impactos do empreendimento e, mais uma vez, atendendo as necessidades imediatas de distribuição de benefícios materiais e políticos para os envolvidos.
Podemos aplicar exatamente o mesmo raciocínio ao examinar como está se dando o processo de reparação/compensação pós desastre de Mariana. O problema fundamental do modelo implementado é que é a empresa causadora do desastre quem decide como e onde os recursos serão aplicados. A empresa criou uma fundação, integrada e controlada por ela mesma para executar as ações de "reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioambientais e socioeconômicos" decorrentes. A fundação não tem participação das vítimas ou de representantes dos indivíduos e comunidades atingidas. Nem sequer em um conselho consultivo (sem poder de deliberação). Aliás, os afetados pela tragédia não tiveram até agora nenhuma participação real nos encaminhamentos dos processos de reparação, negociados entre empresa, governos e Judiciário.
As duas tragédias recentes, e mais as centenas de desastres cotidianos, deveriam no mínimo nos alertar para pensar em mudanças no sentido de aperfeiçoar os processos de licenciamento, melhorando a qualidade dos relatórios de impacto, ampliando a participação da sociedade desde a concepção dos projetos, promovendo a articulação entre os diversos órgãos públicos envolvidos e sua capacidade de fiscalização, e principalmente aumentando o controle social sobre todo o processo.
É assustador, porém, ver que as discussões em curso hoje vão completamente na contramão disso tudo. Segundo levantamento do Instituto Socioambiental, existem hoje no Congresso Nacional 34 propostas de alteração do licenciamento ambiental. Infelizmente, a maior parte dessas iniciativas tem como objetivo e justificativa simplesmente encurtar os prazos.
Para piorar, o agora presidente Bolsonaro expressou desde a campanha claramente sua posição a respeito: facilitar as atividades econômicas, agilizar os processos. Nada disso toca nas questões que precisam ser enfrentadas. Pior, propõem destruir o pouco que temos hoje. Apesar de todos os problemas, o licenciamento ambiental que temos ainda é a única instância no processo de decisão e implantação de grandes transformações do nosso território que exige que um mínimo de informações sobre as obras e atividades e seus impactos sejam publicizados. Ruim com eles, muito pior sem eles.
Ou seja, estamos diante de um completo esvaziamento da ideia de que nosso território é um bem comum e que o espaço da política é aquele encarregado de possibilitar a livre expressão e negociação dos projetos de apropriação, preservação e transformação deste bem. O que importa é rodar a economia, implantar logo as barragens hidrelétricas e mineradoras, o mais rápido possível para aumentar o mais rápido possível o ganho dos acionistas e investidores, e para inaugurar no tempo de um mandato, com o nome da mãe, agradecendo a Deus, filmando e tirando fotos para postar nas redes sociais.Não vem ao caso saber se precisamos ou não dessa obra ou atividade e qual seu efeito na transformação do território e na vida das pessoas. O resultado é o mar de lama.
Observação: depois deste texto ser publicado, recebi uma mensagem da assessoria de imprensa da Fundação Renova, encarregada dos projetos de reparação e compensação do desastre de Mariana, contendo esclarecimentos sobre a participação dos atingidos neste processo. Nesta mensagem, a Fundação esclarece que assinou um Termo de Ajustamento de Conduta em agosto de 2018, a partir justamente do questionamento do Ministério Público a respeito deste ponto, se comprometendo a mudar seu modelo de governança, incluindo os atingidos em várias instâncias. Ainda de acordo com a Fundação, este novo modelo ainda não foi implementado, dependendo ainda da escolha de assessorias técnicas por parte das comunidade.









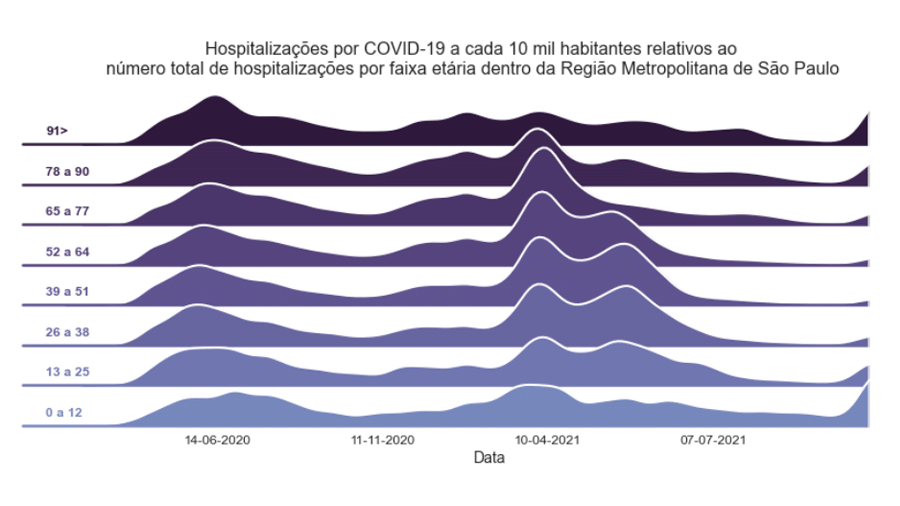


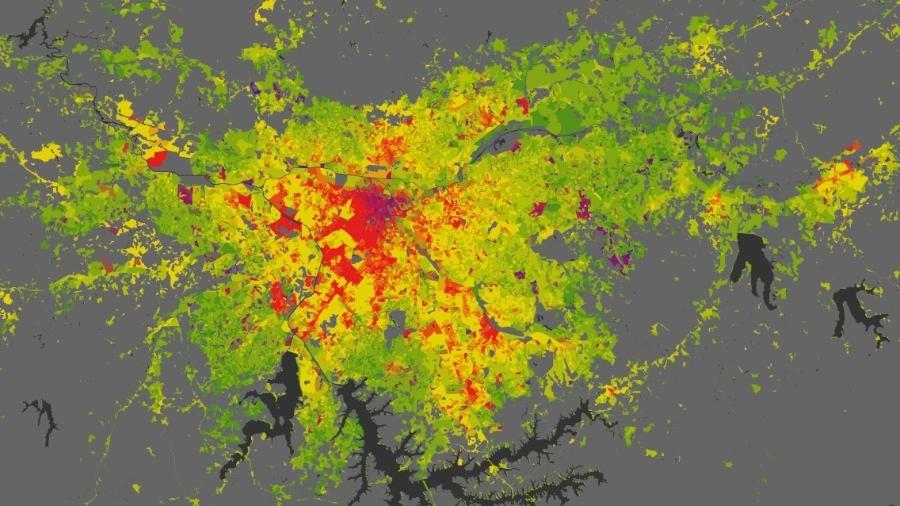


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.