Apenas política urbana racista explica massacre de Paraisópolis
Raquel Rolnik, com Gisele Brito e Aluizio Marino*
Na madrugada de sábado para domingo, nove jovens, entre 14 e 28 anos, foram mortos depois de uma ação policial na favela Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo, localizada na zona sul, no coração de um dos bairros de alta renda da cidade.
Imagens exibidas pela Ponte Jornalismo e o jornalista André Caramante mostram várias cenas de barbárie. Policiais encurralando centenas de pessoas em becos, agredindo brutalmente pessoas que tentavam fugir da violência da polícia, atingidas por bombas de gás, balas de borracha, golpes de cacetete e até garrafas de vidro.
Embora a corporação afirme que a ação policial buscava localizar e prender dois "criminosos", nitidamente a ação da polícia tentava acabar com um baile funk que ocorria no local, o Baile da DZ7, um dos mais famosos da cidade. O funk, como os próprios funkeiros definem, "é som de preto, de favelado e quando toca ninguém fica parado".
As informações veiculadas até então afirmam que os jovens que estavam no baile atestam que os jovens morreram pisoteados pela multidão que tentava fugir dos policiais, mas é preciso aguardar as investigações para averiguar se as mortes não foram provocadas pelas agressões cometidas deliberadamente por eles.
O que aconteceu em Paraisópolis não é uma exceção, há anos que os bailes/pancadões das periferias e favelas são reprimidos com extrema violência policial. O governo do Estado e o poder judiciário continuamente fazem vista grossa para esse tipo de violência. Mais que isso, existe um movimento para legitimar esse tipo de ação, com a tentativa em nível federal de criminalizar o funk e ampliar o excludente de ilicitude. As narrativas que reforçam a ideia de que a violência é o caminho é ainda mais assustadora no momento em que o presidente da República e o ministro da Justiça tentam aprovar leis que isentam previamente policiais de culpa e em que o governador afirmou que a partir de sua posse, a polícia só ia atirar para matar.
Nas primeiras horas do sábado, o jornalista Thiago Borges analisou a repercussão na mídia e nas redes sociais do caso. O que ficava claro é que tentavam criar nexo e justificativa para a ação policial em função dos transtornos que um baile funk com milhares de pessoas pode causar a uma vizinhança. Mas o nexo e a justificativa para o que aconteceu são uma só: racismo.
Não há dúvida que e devem ser levadas em consideração também as pessoas pobres e negras que vivem nas favelas e bairros nos quais há bailes funk ou outras manifestações barulhentas. É preciso dizer que esses bailes podem e devem ocorrer de outra forma e com melhores condições de realização, exigindo um outro tipo de relação do Estado e das políticas públicas com a juventude periférica.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a polícia militar acompanhava mais de 200 bailes funk na data do ocorrido na capital. As forças de "segurança" pública possuem, portanto, um mapeamento desses lugares, que vem sendo utilizado como instrumento para a repressão e violência institucional. É fundamental inverter essa lógica perversa, a partir de ações emergenciais para a mediação de conflitos, envolvendo as comunidades e os organizadores dessas festas.
Existe uma clara diferença na ação policial de acordo com o contexto: festas similares que ocupam o espaço público em lugares elitizados jamais seriam alvos de ações como essa. É inimaginável que a polícia aja da mesma forma com os frequentadores dos bares na Consolação, onde jovens de classe média se reúnem para beber e usar drogas; ou do Anhembi, onde shows autorizados pela prefeitura tem tirado o sono de moradores do entorno.
É preciso dizer, portanto, que esses bailes ocorrem onde e como ocorrem simplesmente porque não há espaço na forma como a cidade é pensada e executada para que ele exista. Se houvesse, teria como pano de fundo a tentativa de "pacificar", de enquadrar em um padrão aceito pela branquitude. A branquitude, em resumo, é a forma hegemônica que impõe parâmetros do certo e do errado. Foi a branquitude, por exemplo, que classificou (e classifica) os negros como marginais, e suas manifestações culturais como profanas ou imorais. É a mesma branquitude que define os povos que habitavam o Brasil antes da colonização como preguiçosos porque os homens resistiram ao trabalho agrícola, um tipo de trabalho que em suas culturas, era considerado atributo de mulheres. Ou seja, a classificação da branquitude do que é certo aniquila as formas essenciais de vida daquelas comunidades e determina a forma como os indígenas são tratados até hoje.
É inimaginável que a polícia entre atirando e encurralando as pessoas numa balada na Vila Olímpia para procurar e certamente achar cocaína, MD, e outras tantas substâncias ilícitas. E é inimaginável porque quem pisa nas cabeças dos não brancos há séculos é a branquitude.
Em 1911, o então diretor do Museu Nacional representou oficialmente o Brasil no Congresso Universal das Raças, em Londres, que em 100 anos, o país estaria livre da população negra e seria um país de brancos. Não era uma mera especulação. A fala expressava um projeto que já estava em curso de embranquecer toda a população a partir da miscigenação. Mas a permissividade ao casamento entre brancos e negros, proibido em outros países, não era a única estratégia. Era preciso embranquecer os negros que ainda tinham a pele preta e por isso, criminalizar todas as formas de vida e manifestações culturais negras.
O candomblé, a capoeira e o samba já foram colocados fora da lei oficialmente e hoje permanecem alvos de criminalização, especialmente quando protagonizados por pessoas negras. Nas cidades, os territórios onde essas manifestações ocorrem são estrategicamente prioritários para ações de revitalização. Estar junto, produzindo uma linguagem, afeto, política, é muito perigoso para a manutenção do projeto de cidade da elite branca. Também por isso, é preciso investir na segregação territorial para garantir que se possa entrar numa bairro e agir daquela maneira com a condescendência de outros dispositivos do Estado.
Ao matar esses nove jovens, o Estado tenta muito mais do que atingi-los individualmente. O Estado quer que o funk embranqueça.Que o baile não ocorra, e se ocorrer, que as mães desesperadas de medo tranquem seus filhos em casa ou na igreja. Quer que ele ocorra em casas de shows em bairros nobres, com ingressos caros e segurança privada para serem frequentados pelas elites. E que enriqueça meninos que, uma vez que ganhem o dinheiro, não pisem mais na favela. Assim, talvez eles se casem com mulheres brancas, tenham filhos brancos para que o país bata sua meta do genocídio anunciado há tantos anos.
Mas esta é uma historia de resistências e existências. No Brasil, o Funk, já é um reinvenção aos Bailes Blacks, fortemente reprimidos durante a ditadura, que além de ser um local de lazer, foi essencial para organização do movimento negro carioca que mais tarde se juntaria o Movimento Negro Unificado.
As cidades precisam ser pensadas de forma a romper com a hegemonia da branquitude. Instrumentos, legislações e planos precisam considerar a diversidade de formas de viver e legitimar a cidade que se autoconstrói na abundância de suas concepções e na escassez de recursos.
Toda solidariedade às mães, familiares e amigos de:
1 – Marcos Paulo Oliveira dos Santos – 16 anos
2 – Bruno Gabriel dos Santos – 22 anos
3 – Eduardo Silva – 21 anos
4 – Denys Henrique Quirino da Silva – 16 anos
5 – Mateus dos Santos Costa – 23 anos
6 – Gustavo Cruz Xavier – 14 anos
7 – Gabriel Rogério de Moraes – 20 anos
8 – Dennys Guilherme dos Santos Franca – 16 anos
9 – Luara Victoria de Oliveira – 18 anos
* Aluizio Marino e Gisele Brito são pesquisadores do LabCidade – Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade.









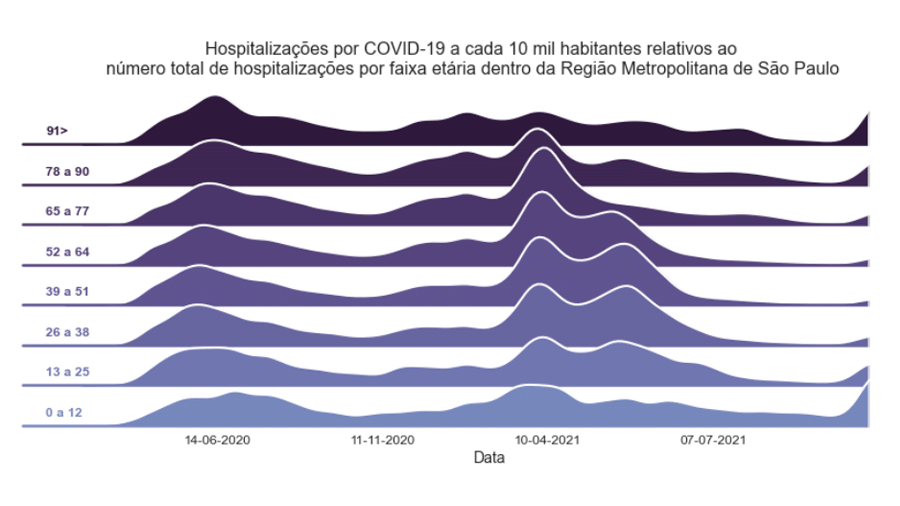


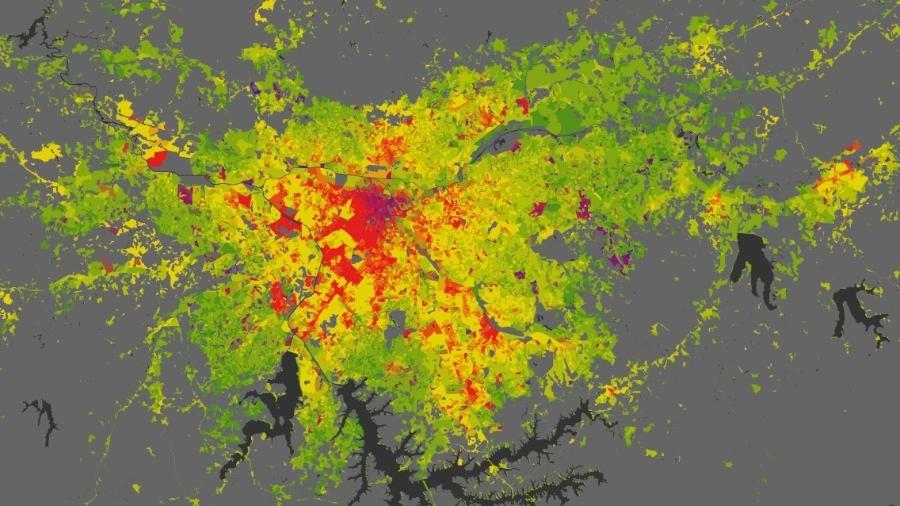


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.